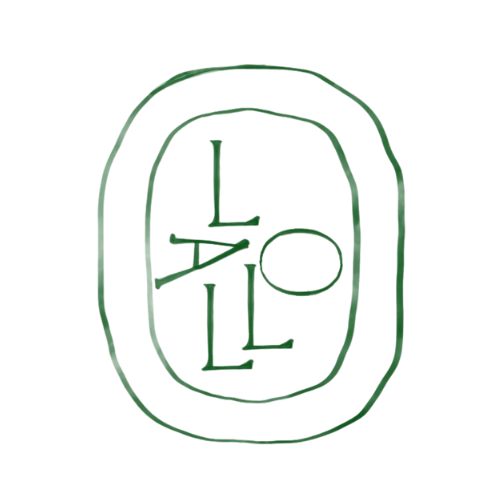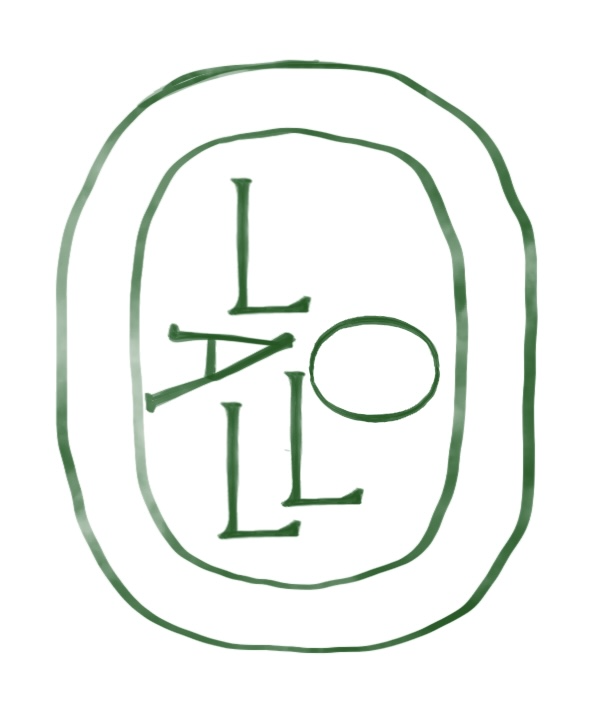Sobre o Amor-Próprio… e a Responsabilidade Pela sua Própria Vida
Quando a Rosa nos enviou a pauta do mês com o famoso texto "On Self-respect" de Joan Didion, senti um arrepio na base da espinha pois escrever sobre uma figura complexa e reverenciada como ela é sempre um grande desafio.
Didion, expoente do Novo Jornalismo e ícone cool de toda uma geração, chegou ao meu conhecimento tardiamente, com a noticia de sua morte no final do ano passado. Até então eu não havia lido nada dela, nem fazia idéia do seu papel na cena literária. Ao ler sobre a sua morte, acabei conhecendo também sobre sua vida e sua obra: seus livros mais famosos - o genial “Rastejando até Belém” que traça um panorama da America dos anos 60 em vinte ensaios, “O Ano do Pensamento Mágico" sobre a perda de John Gregory Donne, seu marido e o "Noites Azuis", sobre a morte de sua filha, Quintana Roo (dentre muitos outros). Ler sobre o luto de Joan me ajudou a encarar o luto pelo qual eu própria passava naquele momento, com a morte da minha avó. De Joan “roubei" a idéia de registrar todos os acontecimentos do dia que a minha avó morreu porque, assim como ela não queria que a morte do seu marido se transformasse em um acontecimento do (ano) passado, eu sabia que, com o passar do tempo, a minha percepção da minha avó viva ficaria “mais remota, até mesmo turva, esmaecida, transformada no que quer que servisse à minha vida sem ela". Naquele momento conseguia entender com uma clareza límpida cada uma de suas palavras que diziam que: “A vida muda rapidamente / A vida muda num instante / Você se senta para jantar, e a vida que você conhecia termina.”

Durante grande parte de sua vida, Didion e seu marido, transitaram com facilidade entre os universos literários de Nova York e de Hollywood – eles escreveram mais de uma dúzia de roteiros, inclusive para o filme Nasce Uma Estrela – e em 2017 ela foi tema de um documentário do Netflix "The Center Will Not Hold", dirigido por seu sobrinho Griffin Dunne. No entanto, seu melhor trabalho veio de sua capacidade de desaparecer em segundo plano para registrar a realidade - uma observadora passiva e assustadoramente afiada em tudo.
Já nos primeiros contatos com a obra de Joan, percebi que ela seria um tesouro a ser desvendado aos poucos, com parcimônia, como aquelas caixas de jóias chinesas, cheias de pequenas gavetinhas, abas e compartimentos, com figuras enigmáticas entalhadas e sinogramas gravados. Joan nos presenteia com raciocínios e reflexões não lineares porém contundentes, entremeados de referências literárias, históricas e politicas que deixam transparecer a sua alta cultura sem que caia no pedantismo ou na autopromoção. Como Hemingway, por quem tinha um grande admiração, a escritora foca nos fatos e economiza nos adjetivos, mas apenas, ou justamente por causa disso, é capaz de transmitir emoções com maestria. Tudo isso regado a uma ironia fina e apurada e a uma firmeza de posicionamento que me parecem bastante exóticos comparado a muito do que se produz nos dias de hoje.

Digo isso porque me questiono como seria possível que Didion, que privilegiava a crueza dos fatos e evitava ao máximo que uma agenda pessoal direcionasse a sua escrita, transitasse na realidade polarizada que vivemos hoje? Onde se encaixaria uma escritora que no auge da segunda onda do movimento feminista em 1972, em um ensaio intitulado “O movimento feminista” atesta que “nunca foi novidade que as mulheres são vítimas da condescendência, exploração e estereótipos de gênero, mas era novidade que outras mulheres não são: ninguém força as mulheres a comprar todo o pacote”. E, não obstante, esta mesma escritora, em 1966 expõe o atraso dos rincões da California, e caracteriza esta como uma “terra onde a crença na interpretação literal do Gênesis se transformou imperceptivelmente em crença na interpretação literal do Pacto de Sangue; a terra dos penteados volumosos, das calças capri e das meninas para quem a grande promessa de vida se resume a um vestido noiva branco de cauda curta e a dar a luz a uma Kimberly ou uma Sherry ou uma Debbi e depois divorciar-se em Tijuana e retomar o curso de cabeleireira”.
Talvez todo escritor esteja condenado a ter sua frase mais banal se tornando a mais twittada, mas no caso de Joan Didion, isso é particularmente verdade - quase uma Clarice Lispector americana. Uma vez que vivemos em tempos de 280 caracteres e sua obra não se alinha com o que é “consumido” atualmente, suas frases de efeito, completamente descontextualizada, são reproduzidas “ad aeternum” nas mídias sociais tornando-a mais um exemplo de autor com fã-clube com predominância de likers ao invés de leitores que efetivamente conhecem o seu trabalho.

O seu ensaio “Sobre o amor-próprio” me parece um claro exemplo disso. O texto apareceu pela primeira vez em 1961 na revista Vogue, e começa com Didion expondo a si mesma na adolescência, em uma situação de rejeição com a qual todas nós podemos nos relacionar: o momento em que ela não consegue entrar para a Phi Beta Kappa - fraternidade universitária dos EUA - e o quanto a sua reação ingênua e de natureza dramática diante dessa negativa é um exemplo de amor-próprio deslocado. Segundo a autora, o seu amor-próprio, até então, baseava-se em algumas “virtudes um tanto passivas” das quais ela se achava naturalmente detentora desde a infância e que, ela acreditava, lhe abririam as portas não só do Phi Beta Kappa, mas lhe concederiam também "a felicidade, a honra e o amor de um homem bom”. Pulamos então para uma Didion já mais velha e com um outro entendimento sobre amor-próprio: de onde ele surge, no que se baseia e porque pode e deve ser cultivado. Mas o que me parece irônico em relação a este texto magistral é que a questão central parece escapar a muito leitores. A joia da coroa do texto de Didion se encontra na reflexão de que o amor-próprio é consequência direta do caráter, o qual ela define como “a disposição de aceitar a responsabilidade pela própria vida”, ou seja tomar para si a responsabilidade pelos nossos atos e por aquilo que advém das nossas decisões.
A responsabilidade com o ônus dos seus encargos e o bônus do amor-próprio emancipador. Mas me parece que as discussões sobre esse famoso texto de Didion e a sua consequente glorificação recai sobre o trecho final que fala sobre “dar as cartas não respondidas o peso adequado, nos libertar das expectativas dos outros, nos entregar de volta à nós mesmos - aí reside o poder imenso e singular do amor-próprio”. Ora, a insubordinação ou o desdém às expectativas alheias nada mais é do que consequência para aquele que realmente conquista esse lugar de “paz distinta, reconciliação privada”.
A mim parece que o movimento atual é o de inverter a ordem da coisa, almejando alcançar o tão sonhado amor-próprio posicionando-se contra toda e qualquer expectativa (da sociedade, dos pais, dos filhos, dos familiares, do mundo) como forma de reforçar o seu caráter. Acontece que a coisa não caminha bem por aí. Como primorosamente elaborou Didion: “Amor-próprio é algo que nossos avós (que hoje corresponderiam aos trisavós da nossa geração) conheciam bem, quer o tivessem, quer não. Desde a juventude estava incutida neles certa disciplina, a consciência de que para viver, cada um faz coisas que não exatamente quer fazer, deixa medos e dúvidas de lado, contrapõe confortos imediatos à possibilidade de confortos mais amplos, até intangíveis.” Portanto o tão almejado “amor-próprio” está ligado primeiramente à nossa capacidade de responsabilizar-nos pelo que somos e pelo que nos tornamos para, em seguida, ser base de libertação das expectativas alheias - e até mesmo das nossas.
Com reflexões um tanto excêntricas para os padrões atuais, tendo a pensar que Didion seria grande candidata ao ostracismo pelas mãos da cultura do cancelamento. Afinal de contas, quem precisa de pensadores fiéis às suas convicções e confiantes na sua capacidade de raciocínio, que levantem questões sobre luto, caráter, responsabilidades e força interior, quando podemos nos juntar ao brado retumbante de que tudo pode ser, só basta acreditar?